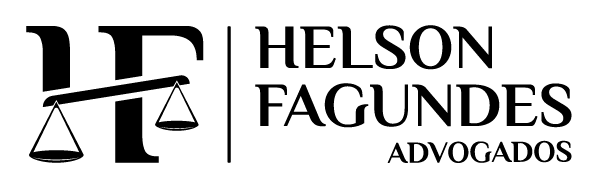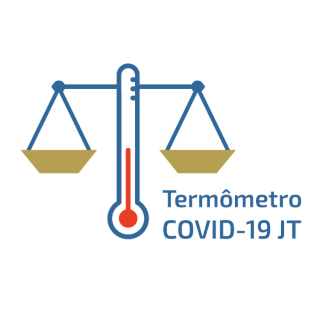Autor: Helson José Berçott Fagundes
Advogado
RESUMO
O presente trabalho tem por fim apontar através da pratica processual trabalhista, fatos que vivencio, exercendo a função de perito do Juiz do trabalho desde o ano de 1995 e conciliar acerca das divergências jurisprudenciais e doutrinárias no que concerne aos cálculos da contribuição previdenciária decorrente de sentenças de mérito proferidas na Justiça do Trabalho quando de sua fase de liquidação de sentença, principalmente no que tange ao instituto da decadência tributária, que sofre influência do posicionamento do aplicador do direito frente a questões como o fato gerador do tributo social incidente sobre a folha de salários, a natureza jurídica da sentença trabalhista após a Emenda Constitucional n° 20 / 98, e posteriormente com a Súmula Vinculante n.º 8 do STF que considerou inconstitucionais o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n.º 8.212/1991, que tratam da decadência de créditos tributários previdenciários, entre outros aspectos. Assim, a origem legislativa deste dever ex officio da Justiça do Trabalho; quais processos estão englobados nesta competência descrita no artigo 114, inciso VIII da Carta Magna; como se da à constituição do crédito previdenciário trabalhista; onde se opera o lançamento tributário; qual é o fato gerador da contribuição previdenciária; o que é o instituto da decadência; e, quando se inicia a contagem do prazo decadencial, inclusive nos casos em que haja o reconhecimento de vínculo empregatício acrescentando-se ainda, alguns posicionamentos dos nossos tribunais e decisões interlocutórias de alguns magistrados a quo, que já se convenceram a respeito da não inclusão do cálculo de terceiros na fase de liquidação de sentença, diante da incompetência da justiça trabalhista em cobra-los.
PALAVRAS – CHAVE: Justiça do Trabalho. Execução. Tributo Previdenciário.
1-INTRODUÇÃO
Busca-se, pesquisar as falhas na fase executória das liquidações de sentença quanto às verbas previdenciários pelo alcance da decadência.
Considerando-se observações e experiências profissionais perante a Justiça do Trabalho e mediante determinação do comando sentencial, os recolhimentos previdenciários eram executados de forma globalizada na década de noventa e atualmente vem sendo executado de acordo com o artigo 879 paragrafo 1o – A, conforme o advento da Lei n.o 10.035, de 25 de outubro de 2000.
Como toda a execução de ofício, a modalidade operada pelo Constituinte Derivado causou surpresa para os operadores do direito trabalhista, vez que, criou-se uma situação inusitada, na qual o Juízo condena o empregador a recolher tributos, passando a chamar na lide após o ato homologatório dos cálculos para acompanhar de perto a Previdência Social, passando na fase de execução de sentença o Instituto Previdenciário a figurar no polo ativo na qualidade, também, de credor quando então o processo já estava em curso e com seu transito em julgado.
E a matéria por ser complexa, envolvendo recomposição da folha de pagamento a época em que ativava o laborista em seu posto de trabalho, onde se regia ainda, composição do salário de contribuição de acordo com a vigência previdenciária e sua incidência, sobre a rubrica própria do título lançado a crédito do trabalhador em folha de pagamento terminava cada vez mais em um aprofundado conhecimento do operador do direito em cálculos de folha de pagamento voltados para os profissionais do Departamento de Administração de Pessoal (antigo DP hoje RH) de uma empresa, cujo conhecimento cientifico requer-se uma formação em ciências da Administração de Empresas ou de ciências Contábeis.
Para desmistificar os demonstrativos de pagamentos e seus códigos lançados sobre as mais diversas rubricas, fato que sempre demandou um grau de conhecimento cognitivo além de tempo, para cumprir com exatidão a sentença liquidanda e por sua vez, gera todo um liame de discussão judicial em juízo ad quo ou ad quem, acrescentando ainda, que a demora na solução muitas vezes desemboca na decadência das verbas previdenciária.
A questão foi objeto da Súmula vinculante n.º 08 do Supremo Tribunal Federal STF, pondo fim, ao que parece à parte da discussão relativa aos prazos de decadência e prescrição, pois a Lei n.º 8.212/91, nos artigos. 45 e 46 previa o decênio para cobrança, ao invés do quinquênio do CTN, nos artigos. 173 e 174.
A Súmula é expressa nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n.º 1.569/97 e os artigos. 45 e 46 da Lei n.º 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de créditos tributários. (STF – Súmula vinculante n.º 8)”. (ZAMBITE, 2011, p. 416).
Todo esse cenário foi vivenciado onde se dormia o Instituto Previdenciário em berços esplendidos vez que, poderia buscar seu crédito por período de 10 anos até a entrada em vigor no ano de 2008 da Súmula Vinculante n.º 8 do STF, que considerou inconstitucional o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n.º 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de créditos tributários previdenciários, que em resumo, deve-se observar igualitariamente os 05 (cinco) anos conforme determina o Código Tributário Nacional, idêntico período da prescrição Trabalhista.
Outra questão de grande complexidade, são os acordos firmados, se há ou não a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas salariais destes acordos celebrados hodiernamente superiores ao período quinquenal, ou seja, para o empregado que ativou por 05 anos ou mais junto ao empregador, e após a distribuição da ação o acordo demora a ser efetivado, porém, ocorre antes do julgamento do mérito da ação onde muitas vezes já esta operada a decadência parcial do tributo.
Muito claramente observa-se, também, que não existe um critério objetivo sobre questões que envolvem os recolhimentos de Terceiros (verba destinada ao: Salário-Educação; INCRA; SENAI; SESI; SENAC; SESC; SEBRAE, DPC; FUNDO AEROVIÁRIO; SENAR; SEST; SENAT; SESCOOP) cujas alíquotas em média são lançadas e cobradas na proporção de 5,8% sobre os haveres salariais incidentes da condenação e diga-se, cobranças não originárias para a Justiça do Trabalho executar, porém, na prática são realizadas diuturnamente por muitas varas do trabalho e outras, já estão abolindo esse ônus para o empregador por perceber que realmente não são devidas.
Diante da prática, percebe-se que ainda não há um critério objetivo e absoluto até o presente momento da conclusão deste trabalho, fato que será debatido esta matéria exaustivamente e ao seu final, será emitida uma conclusão e alternativas jurídicas, para amenizar o desnorteamento que vem acometendo junto ao circulo dos profissionais que militam na justiça trabalhista, servindo para desmistificar este enigma que envolve as execuções fiscais de ofício no processo em trâmite na Justiça do Trabalho.
Em contrapartida, a previdência vem arrecadando milhões anualmente de arrecadações decadentes (parciais ou integrais) sem despender o menor esforço perante a justiça do trabalho e as empresas vêm arcando com este ônus direto justamente porque existia uma preocupação de nossos magistrados justamente porque respondiam pessoalmente por este recolhimento conforme determinava o artigo 41 da Lei 8.212/91, artigo este revogado, mas que delega a obrigatoriedade e responsabilidade da pessoa do Juiz em recolher este tributo ao erário do instituto previdenciário.
2-AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SUA HISTÓRIA E EVOLUÇÃO NAS EXECUÇÕES NOS PROCESSOS TRABALHISTA.
A seguridade social é definida no próprio texto constitucional, artigo 194, como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e à assistência social.
O texto constitucional impõe ao Estado a responsabilidade pela implementação de um sistema de proteção social, porém convoca a sociedade em geral para atuar conjuntamente como o Poder Público, estabelecendo, assim, uma responsabilidade social mútua que exige ações tanto da Administração quanto da sociedade em geral.
Importante também é ressaltar que tais ações não podem ocorrer de forma dissociada, ou seja, de maneira independente, sendo necessário que sejam integradas a um único plano e sistema de proteção social, havendo a possibilidade, é claro, da existência de formas de atuação complementar.
A título elucidativo (LOPES 2010, p. 43):
As disposições gerais a respeito da seguridade social tratam de estabelecer também os objetivos em que se baseia sua organização, sendo eles: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralização da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
De acordo com o artigo 44 da Lei 8.212/91 (MP N.º 258 – 21/07/2005), acrescentou-se a determinação para que se faça “expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado”, para que a autarquia possa recorrer caso seja de seu interesse conforme preceitua o Decreto-Lei n.º 779/69, art. 1º inciso V, que dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas a autarquia.

Fonte: crédito do pesquisador
Todavia, com a entrada em vigor da Medida Provisória n.º 359 de março de 2007 e Lei 11.501 de 11/07/2007, que revogou o artigo 44 da Lei 8.212/91, abriu-se novamente a lacuna para as discussões jurídica a respeito da contagem do prazo decadencial, se é do fato gerador conforme preceitua o artigo 43 § 3º da Lei 8.212/91 (período da prestação do serviço), ou do trânsito em julgado da sentença condenatória.
(Revogado pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 359, DE 16 DE MARÇO DE 2007 e LEI Nº 11.501 / 11.07.2007 – a partir de 2 de maio de 2007) Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado. (Redação dada pela Lei nº 8.620, de 5.1.93)
Tal dispositivo supra, buscava apenas formas de comunicar a Previdência Social a existência de débitos sociais para que esta tomasse as providências cabíveis, o que tão somente ajudava no combate à sonegação, sem colaboração de fato na execução dos débitos previdenciários na Justiça do Trabalho, que já era tida como um Órgão complementar do governo federal na arrecadação das contribuições sociais, decorrentes das sentenças que proferisse.
3 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.1 Decadência e prescrição
Dos esclarecimento doutrinários extraído (ZAMBITTE, 2011, p. 401):
Visando à segurança nos negócios jurídicos e à pacificação social, criou-se, no Direito, o instituto da decadência, com o objetivo de restringir o exercício de direito, por quem o possui, a um determinado período de tempo. A decadência faz perecer o direito pelo transcurso de certo lapso temporal previsto em Lei. A decadência fulmina o direito protestativo, que é aquele a ser exercido exclusivamente pelo seu titular.
Como se pode observar, se há direito a ser exercitado por seu titular; independente da vontade de outrem, em certo lapso temporal, tem-se a decadência, ou caducidade.
Em sua doutrina, também, se esclarece (ZAMBITTE, 2011, p. 401):
Já a prescrição, visando também à segurança jurídica e à pacificação social, tem como objetivo a extinção de um direito subjetivo, o qual demanda a ação de terceiros, que pode ser exigido judicialmente. Por isso a doutrina, clássica afirmava que o transcurso do prazo prescricional fulminava a ação relativa ao direito. Ultrapassado o prazo prescricional, sem a ação do interessado, a ação cabível para obter a tutela jurisdicional seria perdida e, por consequência, o próprio direito. No entanto, há um erro nesta teoria, pois a prescrição não provoca a perda do direito à ação, por ser uma prerrogativa constitucional, mas sim a pretensão de ter sua demanda atendida judicialmente. Ou seja, o ingresso com uma ação no judiciário é garantia constitucional imprescritível, mas a tutela, ou seja, a decisão favorável à demanda, não ocorrerá, pois a pretensão do autor não mais encontra respaldo no Ordenamento.
Pode-se conceituar pela lição de ZAMBITTE, que o exercício de uma pretensão é, em regra, limitado no tempo. Ou seja, se não exercida a pretensão no prazo legal, extingue-se a por meio do fenômeno denominado prescrição. Assim, a prescrição está ligada ao prazo para o exercício da pretensão condenatória, surgida da ofensa a um direito objetivo deferido a um titular, que faz nascer o direito subjetivo de exigir o seu cumprimento. Exemplo é a prescrição nuclear trabalhista (ações proposta dois anos após o encerramento do contrato de trabalho).
Diferentemente da prescrição a decadência pode ser apresentada quanto à lesão ao direito. A decadência é a extinção de um direito potestativo pelo seu não-exercício dentro do prazo estabelecido em lei, que para as verbas previdenciárias nas execuções trabalhistas são de 05 (cinco) anos, para a autarquia federal exercer seu direito após o lançamento de oficio pela autoridade judiciária nas sentenças condenatórias.
Dos esclarecimentos doutrinários (PEREIRA, 2012, p.128):
Podemos conceituar decadência como a perda do próprio direito material pela inércia do titular no decurso do tempo. Atinge as ações constitutivas. No Direito Processual do Trabalho, existem 3 grandes exemplos de prazos decadenciais: 1º) 30 dias, contados da suspensão do empregado, para o ajuizamento de inquérito judicial para apuração de falta grave (artigos 494 e 853 da CLT; Súmula 403 do SFT); 2º) Anos, contados do trânsito em julgado da decisão, para o ajuizamento de ação rescisória (art. 495 do CPC e Súmula 100, I e II, do TST); 3º) 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado de autoridade, para a impetração do mandado de segurança.
3.2 A prescrição e decadência aplicável às ações trabalhistas
Segundo preceitua o artigo 189 do Código Civil, prescrição representa a perda da exigibilidade ou da pretensão do direito, na forma da lei.
Nesse instituto jurídico, o direito antecede a violação, que, em regra, inaugura o prazo prescricional.
Desde que não viole o princípio do contraditório, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, artigo 193 do Código Civil – efeito translativo dos recursos, devendo ser pronunciada, ainda que de ofício, artigo 219, § 5º Código Processo Civil, quando não objeto de renúncia.
A prescrição admite apenas uma interrupção (artigo 202, Código Civil), no momento da propositura da reclamação trabalhista, recomeçando a contagem do prazo a partir do último ato do processo.
O prazo prescricional mais evidenciado aos trabalhadores esta esculpido no artigo 7º, XXIX da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que preceitua neste artigo de nossa carta Magna: são direitos dos trabalhadores, urbanos e rural, ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
A Consolidação das Leis Trabalhista, sedimentou também, a prescrição no artigo 11º inciso I, prescrição quinquenal (5 anos) e no artigo 11º inciso II, a prescrição bienal (2 anos), sacramentando-se eventuais discussões com a Súmula 308 inciso “I” e “II” do TST.
Neste sentido, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento através desta Súmula 308, que a respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatas anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.
Assim, o trabalhador possui cinco anos (prescrição quinquenal), contados da violação de qualquer direito, para exigir reparação. Deverá, porém, sempre observar o limite de dois anos (prescrição bienal) após a extinção do contrato de trabalho para ajuizar sua reclamatória.
A título exemplificativo:

Fonte: Crédito do pesquisador
Já a decadência que por sua vez significa dizer caducidade, perda do direito.
Decorre de lei ou da convenção das partes, começando a fluir seu prazo a partir do surgimento do direito.
É nula a renúncia à decadência fixada em lei, sobe pena de se fazer letra morta ao artigo 209 do Código Civil.
A decadência não admite interrupção nem suspensão, artigo 207 do Código Civil, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, embora o magistrado deva conhecê-la de ofício quando prevista em lei, artigo 210 do Código Civil (CC.).
As três hipóteses mais importantes de prazo decadencial no direito do trabalho são:
a) inquérito para apuração de falta grave (trinta dias da suspensão do empregado);
b) mandado de segurança (cento e vinte dias da ilegalidade praticada ou abuso de poder);
c) ação rescisória (dois anos, contados do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não).
Oportuno consignar, por tratar-se de matéria tributária a doutrina trabalhista não aborta a decadência fiscal, em especial a este estudo, as verbas previdenciárias.
A esse propósito, importante esta, em se registrar que o prazo decadencial começa a fluir sua contagem na data do trânsito em julgado da ação trabalhista, certificação processual. E sendo assim, e como diferente não poderia ser, para os Tributos Federais em especial os recolhimentos previdenciários, somente podem ser exigidos da data da certificação do trânsito em julgado da ação Trabalhista, os 05 anos (Súmula Vinculante 8 do STF), retroativos a sua certificação.
A par dessa consideração, poder-se-á aplicar a decadência integral ou a decadência parcial dos recolhimentos previdenciários sobre as verbas salariais, justamente pela fruição temporal.
Indubitavelmente, é inegável que em todas as reclamações trabalhistas ocorrem à decadência parcial, e quanto não muito, a decadência integral das verbas fiscais, em especial, os recolhimentos previdenciários, justamente pela aplicação do fato gerador que tem como premissa a cobrança em via judicial dos créditos previdenciários. O critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, § 4º, do Decreto n.º 3.048/1999 que regulamentou a Lei n.º 8.212/91 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição.
Em continuidade ao caso exemplificativo na figura 2, verifica-se ao caso telado a título ilustrativo a decadência parcial dos recolhimentos previdenciários:

Aplicando o quadro de análise, importante ressaltar que as fases processuais são longas, sendo constituído das fases: postulatória, probatória, decisória e consequentemente muitas vezes recursais, podendo chegar-se até a decadência integral dos recolhimentos fiscais, que no caso em comento, referimos aos recolhimentos das verbas previdenciários nas ações trabalhistas.
Para exemplificarmos: em continuidade a figura 2, verifica-se agora ao exemplo telado a decadência integral dos recolhimentos previdenciários:

Colocando em foco com a doutrina, esclarece-se:
Decadência é a perda do direito potestativo / caducidade. Decorre de lei ou convenção das partes. O prazo inicial inicia-se a contagem com o surgimento do direito. Inadmite suspensão ou interrupção (CC., art. 207). Pode ser alegada a qualquer tempo. Só pode ser declarada ex oficio se decorrente de lei. (BASILE, 2010, p. 162)
Em conformidade com a pesquisa e doutrina, resta claro que a contagem de prazo para as verbas condenatórias previdenciárias reconhecidas em sentenças judiciais nasce com o trânsito em julgado da ação.
4-CONCLUSÃO
Tanto a prescrição quanto a decadência são efeitos do decurso de tempo, cujo prazo é fixado em lei, aliado ao desinteresse ou inércia do titular do direito, nas relações jurídicas, sendo institutos criados pelo direito para servir de instrumento à consecução do objetivo maior: a resolução de conflitos, com a consequente pacificação social.
A decadência é extinção de um direito por haver decorrido o prazo legal prefixado para o exercício dele. Ela ocorre pela Inércia de seu titular.
A prescrição é o desinteresse é a perda do direito de ação, ou seja, de reivindicar esse direito por meio da ação judicial cabível por ter transcorrido certo lapso temporal.
Nesse diapasão, insta frisar que o enfoque deste artigo foi dado para a decadência sobre as verbas de execuções previdenciárias, fato esse, que não foram aprofundados sobre a égide da prescrição.
Ser conhecedor da prescrição e da decadência é fundamental ao operador do direito, porque se trata de um meio para a obtenção da finalidade da atividade jurídica, em destaque ao caso específico para a decadência suscitada.
O ponto modal da questão conclusiva é que grandes embates surgiram na doutrina e na jurisprudência no campo da decadência, diante do prazo decenal estipulado nos artigos 45 e 46 da Lei n.º 8.212/91, em contraposição aos quinquênios previstos no CTN (artigos 173 e 174).
A maior demonstração de aplicabilidade deste dispositivo se deu em junho de 2008, com a publicação da Súmula Vinculante 8 do SFT, afastando os prazos decenais das mencionadas contribuições social-previdenciárias e aplicando-se sobre eles, o prazo quinquenal.
É que os artigos 45 e 46 da Lei n.º 8.212/91 tratavam, respectivamente, dos prazos decenais de decadência e prescrição em relação às contribuições para a seguridade social.
De acordo com estes dispositivos legais estes prazos seriam de 10 anos, em plena dissonância dos prazos quinquenais do CTN, no art. 173 (decadência) e no art. 174 (prescrição).
Como é cediço, a Lei n.º 8.212/91 não é uma lei complementar, mas uma lei ordinária, razão por que lhe é vedada a ingerência, em matéria cabente à lei de normas gerais. Vale dizer que somente o CTN pode tratar de prazos de decadência e prescrição tributária.
Desse modo, a partir da edição da Súmula Vinculante n.º 8 do STF, aplicam-se para as contribuições da seguridade social as regras de decadência e prescrição prevista no Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, o prazo quinquenal, próprio de todo tributo.
Caso o magistrado não se posicione acerca dos efeitos imediatos da Súmula Vinculante n.º 8, quando provocado pelo interessado, pode haver a protocolização de reclamação no STF, com base no § 3º do artigos 103-A da CF (e art. 7º da Lei n.º 11.417/2006).
De uma maneira ou de outra, toda a administração pública, a par de todas as instâncias do Judiciário, sendo instadas a decidir, subordinam-se, inexoravelmente, ao preceito da Súmula Vinculante n.º 8 do STF.
Arrematando-se a questão, observa-se que nas execuções trabalhistas não vem se aplicando o instituto da decadência de ofício quanto às verbas previdenciárias, tão pouco este instituto vem sendo alegado pelos operadores do direito, justamente por tratar-se de matéria que envolve conhecimentos científicos voltados à ciência da Administração e da ciência Contábil e que requer profundos conhecimentos de departamento de Administração de Pessoal, recomposição da folha de pagamento para apurarem-se os fatos geradores em suas devidas épocas próprias, mês a mês, conforme preceitua o artigo 276 § 4º, do Decreto n.º 3.048/1999 que regulamentou a Lei n.º 8.212/1991 e a Súmula 368 do TST.
Importante frisar que, pelas pesquisas realizadas pode-se afirmar que em todas as execuções trabalhistas indubitavelmente, desde, a edição da Súmula Vinculante n.º 8 do STF em 20 de junho de 2008, vem se operando a decadência parcial ou integral das verbas previdenciárias em grande número de execuções trabalhista a nível nacional, podendo-se até chegar a quase a sua totalidade, apenas não se operando quando o período laboral do obreiro foi extremamente curto e antes da fase decisória (sentença monocrática), ocorrer à conciliação entre as partes.
Este fenômeno da decadência ocorre justamente pela morosidade dos tramites processuais, prazos e congestionamento de processos em trâmites nas varas do trabalho, fato que desemboca na decadência parcial ou integral, quando há o lançamento de oficio.
Diante deste raciocínio lógico, é notório o entendimento que os cartórios e os Juízes Trabalhistas e TRT´s, deve dar a máxima atenção e celeridade processual quanto às resoluções de mérito (fases postulatórias, probatória, decisórias e recursais), a fim de atenuar a decadência parcial e impedir a decadência integral dos tributos previdenciários.
Não é debruçando-se esse tempo precioso para proferir sentenças líquidas processuais que sem sombra de dúvidas poderá ser reformadas ou indeferidas em instâncias superioras ou colocando servidores do cartório para fazer cálculos, inúmeros vezes em vão.
Nota-se, que toda essa problemática da decadência surge justamente pelo tempo, e de forma alguma é o mister do juízo fazer cálculo de liquidação para tornar a sentença líquida, garimpando o processo para apurar valores condenatórios quanto aos haveres do reclamante e das verbas fiscais e previdenciárias, tão pouco dos serventuários das varas, que devem ater-se aos atos processuais zelando para a celeridade processual e suas publicações.
Insta frisar que, não se pode perder tempo uma vez que a decadência previdenciária do lançamento de oficio dos tributos é mensal, Súmula 368, inciso III do TST e Súmula vinculante 8 do STF.
Para isso, o legislador já disponibilizou os peritos judiciais de acordo com o artigo 145 do CPC, profissionais capacitados e habilitados a fazê-los sem onerar o Estado e exercem sua contraprestação jurisdicional no prazo assinalado pela Lei, nas execuções de sentença.
É de suma importância haver uma conscientização das varas do trabalho e dos TRT´s para essa problemática o quanto antes, principalmente pelo fato da Justiça do Trabalho ser a maior fonte de receita previdenciária.
A par dessa consideração, por tratar-se a decadência um institutos jurídicos destinados à pacificação social, à manutenção da ordem jurídica, à tranquilidade das relações jurídico-sociais é que se aprofundou este estudo de conclusão de curso para aclarar e dirimir dúvidas dos operadores do direito.
A guisa da ilustração da estatística monetária dos recolhimentos se uma semana de conciliação perante a Justiça do Trabalho, 2ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista que se iniciou no dia 11 e terminou no dia 15 junho de 2012, nestes 05 dias a Justiça do Trabalho arrecadou R$ 325.187.444.30 (trezentos e vinte e cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) quantia essa divulgado no site do TST/TRT´s, dos quais, ao se aplicar a alíquota previdenciária de 20% sobre o montante dos acordos, obtém-se o resultado de um recolhimento ao erário previdenciário de R$ 65.037.488,86 (sessenta e cinco milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sobre as verbas salariais com incidência previdenciária.
Sobre a totalidade divulgado pelo TST/TRT’s nesta semana de conciliação, ainda se tem em destaque os recolhimentos de Terceiros (alíquota 5,8%) e do SAT (alíquota variável de 1% a 3%).
A par dessa consideração, sem medo de errar, é alarmante a constatação que se oneraram indevidamente milhões de empregadores, com recolhimentos decadentes integrais ou decantes parciais a nível nacional.
Por via de consequência, verifica-se que os empregadores vem arcando com um ônus, acima do que lhes é devido, quando se cobra verbas decadentes integral ou decadentes parciais, justamente por falhas técnicas da sistematização nas execuções trabalhistas e por deixarem de ser provocado pelos patronos, defensores dos interesses de seu cliente.
Nunca é demais repisar, que todo esse dinheiro arrecadado ao erário previdenciário e que por sua vez, encontra-se decadentes integral ou parcial (extinção do crédito por caducidade), poderá ser recuperado por ação judicial autônoma pelos empresários / empregadores, que se sentirem lesados.
Mister se faz esclarecer, sobre a questão dos recolhimentos de Terceiro e do SAT, demonstrados nos casos práticos, por não existir uma Lei especifica, Portaria ou Provimento do TST, vem se caminhando a jurisprudência atual para a não inclusão destas verbas nas execuções trabalhistas.
Com relação à verba de Terceiro, esta pesquisa conclui que a Justiça do Trabalho não possui competência para cobrar esta titularidade, tão pouco a previdência social, justamente pelo fato do crédito não lhe pertencer.
Neste sentido, alguns Juízes na vanguarda de seu tempo já vêm adotando posicionamento, tendendo a formalizar jurisprudência sobre a matéria do não recolhimento das verbas de Terceiro.
Já com relação ao SAT, a pesquisa revela que por tratar-se de uma cobrança pertencente ao Instituto Previdenciário para fazer frente às aposentadorias especiais, dentro do período que não esteja decadente, a execução é perfeitamente devida, e as decisões monocráticas nas execuções que por sua vez, a estão excluindo, não se encontram guarida na doutrina ou legislação vigente.
Importante frisar que, os presentes estudo encontram-se atualizado até agosto de 2012, e que quaisquer alterações doravante, serão matérias de novas pesquisas.
REFERÊNCIAS:
BRASIL, Presidência da República, Decreto-Lei n.º 8.212/1991 de 24 de julho de 1991, Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Brasília, DF, 25 jul 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm. Acesso em: 03 fev. 2012.
BRASIL, Presidência da República, Lei n.º 10.035/2002, 25 de outubro de 2000, Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de execução das contribuições devidas à Previdência Social. Brasília, DF 26 de out 2000. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10035.htm. Acesso em: 03 mar 2012.
Constituição Federal 1988. Disponível em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 27 jul 2012.
LOPES JUNIOR, Nilson Martins. Direito previdenciário custeio e benefícios. 3. ed. São Paulo: Rideel, 2010.
PEREIRA, Leone. Processo do trabalho. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
Súmula Vinculante n.º 8, Supremo Tribunal Federal. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=8.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes. Acesso em: 09 mar 2012.
ZAMBITTE, Fábio Ibrahim. Curso de direito previdenciário. 16. ed. São Paulo: Impetus, 2011.